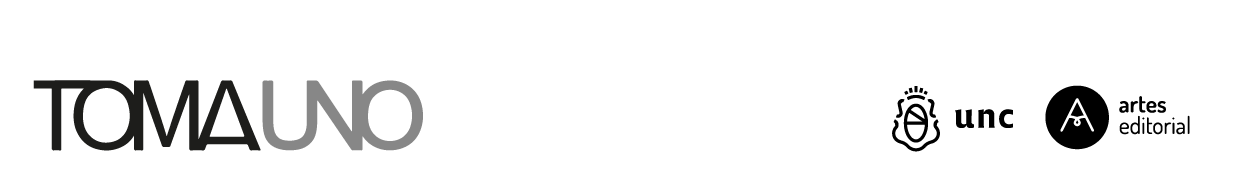
Número 12
Año 2024
A última floresta: elos e sonhos socioambientais compartilhados
A última floresta: shared socio-environmental links and dreams
Adriano Medeiros da Rocha
Universidade Federal de Ouro Preto
Mariana, Mina Gerais, Brasil
DOI: https://doi.org/10.55442/tomauno.n12.2024.47089
ARK: https://id.caicyt.gov.ar/ark:/s22504524/4cmpsnrg8
Resumo
Esta pesquisa constitui uma análise fílmica sobre o longa-metragem brasileiro A última floresta (2021), desenvolvido através da parceria entre a equipe do cineasta Luiz Bolognesi e a comunidade indígena Yanomami, dentro da floresta Amazônica. A seleção do filme como objeto de estudo deve-se ao modo como ele enuncia a situação de violência, dizimação e abandono que os Yanomami foram submetidos nos últimos anos. Serão evidenciados aspectos narrativos, estéticos e políticos da obra realizada de forma compartilhada e híbrida. O caminho conceitual busca reconhecer características fundantes do cinema socioambiental, bem como problematizar a arte, especialmente o cinema, como lugar de resistência e luta na defesa da natureza.
Palavras-chave: cinema socioambiental, cinema de resistência, cinema brasileiro, povo Yanomami, análise fílmica
Abstract
This research constitutes a film analysis of the Brazilian feature film A última floresta (2021), developed through a partnership between filmmaker Luiz Bolognesi's team and the Yanomami indigenous community, within the Amazon rainforest. The film selection as an object of study is due to the way it enunciates the situation of violence, decimation and abandonment that the Yanomami have been subjected to in recent years. Narrative, aesthetic and political aspects of the work carried out in a shared and hybrid way will be highlighted. The conceptual path seeks to recognize fundamental characteristics of socio-environmental cinema, as well as problematize art, especially cinema, as a place of resistance and struggle in defense of nature.
Keywords: socio-environmental cinema, resistance cinema, Brazilian cinema, Yanomami people, film analysis
Recibido: 03/07/2024 - Aceptado con modificaciones: 30/10/2024
TOMA UNO, Nº 12, 2024 - https://revistas.unc.edu.ar/index.php/toma1/index
ISSN 2313-9692 (impreso) | e-ISSN 2250-4524 (electrónico)
Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-Sin Derivadas2.5 Argentina.
Introdução
A proposta deste artigo é analisar o caminho construtor de uma das obras fílmicas de Luiz Bolognesi. Ele nasceu na cidade de São Paulo, em 1966, se formou em jornalismo pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e já atuou como exibidor/difusor, roteirista, produtor e diretor de cinema brasileiro. Entre suas obras, destacam-se Uma história de amor e fúria (2013), Ex-Pajé (2018), A última floresta (2021). As três apontam para um caminho que busca a constituição de uma cinematografia com preocupação socioambiental.
Neste artigo, o recorte analítico se dará sobre esta última obra, que rompeu as fronteiras do Brasil e ganhou espaço em muitas janelas de exibição pelo mundo e foi premiada em variados festivais e mostras, tais como: Panorama Festival de Berlim (melhor filme para o público); Seoul Eco Film Festival (melhor filme); Festival dos Povos Originários de Montreal (melhor filme); Festival Signs of the Night da Alemanha (melhor filme), Prêmio Platino de Madri (melhor documentário), entre outros.
Conforme a sinopse oficial da obra, difundida pela produtora Buriti Filmes, A última floresta conta uma rara história de resistência cultural dos yanomami. Enquanto outros povos são arrastados pela difusão da identidade do homem branco, eles lutam para se isolar e manter a cultura espiritual e cotidiana viva, travando assim, uma verdadeira guerra com intuito de preservar suas identidades. Neste contexto, há também conflitos internos, como o desejo dos jovens de deixarem a vida na floresta pela sedução das cidades.
O filme A Última Floresta é um documentário de longa-metragem que pretende apresentar esses personagens e esse conflito através da observação de situações cotidianas dos yanomami. Do convívio com eles, do desejo de escutá-los e entendê-los a partir da lógica deles próprios (Buriti Filmes, s/data).[1]
No desdobramento analítico aqui proposto, algumas sequências serão destacadas, tais como a encenação do mito da origem do povo Yanomami, a liderança conscientizadora do xamã, a subjetividade encontrada no ritual xamânico próximo do final da obra e a trilha de resistência e quebra de tabus firmada por Ehuana Yara. Ela é a representante feminina de destaque no filme, uma vez que demonstra e potencializa a força da mulher indígena, bem como apresenta uma postura que reivindica mudanças dentro da forma de organização ainda patriarcal de seu povo.
Entre os outros personagens que serão destacados, caberá ressaltar o protagonismo do líder Yanomami, Davi Kopenawa, que corporifica o conceito de ancestralidade e a potência do diálogo, das rodas de conversa dentro do filme. Além do líder do presente, a alegoria dos irmãos Omama (protetor da natureza e pai dos Yanomami) e Yoasi (ser violento que é expulso e acaba enterrando espíritos maléficos nas terras com minérios) mescla os elementos ficcionais à construção narrativa documental. A personagem Thuëyoma (um tipo de ser peixe) também contribuirá para este rompimento entre os irmãos do mito de origem. Uma de suas características é usar o rio como um tipo de porta de entrada e saída do mundo das águas.
O mecanismo analítico aqui proposto vai elencar alguns dos principais movimentos dentro do processo construtor da obra, bem como se deseja evidenciar elementos de resistência encontrados no decorrer da narrativa fílmica. Francesco Casetti e Federico di Chio (1998) defendem que a análise fílmica não é simplesmente o deciframento de um texto, mas também a exposição e valoração de um modo próprio de aproximar-se do cinema. Os autores alertam que a análise fílmica não possui uma disciplina precisa e nem um trajeto puramente teórico. Eles ressaltam que o analista de filmes deve responder às questões da análise usando também seus próprios critérios de intervenção e sempre deixando uma margem para os elementos subjetivos e para a criatividade.
Francesco Casetti e Federico di Chio comparam este tipo de visualização mais individualizada para os fragmentos que compõem o objeto fílmico ao olhar de um botânico diante a uma planta, distinguindo raízes, troncos, folhas, flores, entre outros. Para eles, como o botânico, o pesquisador de cinema deveria colocar sua atenção sempre nas partes menores, mais imperceptíveis às pessoas comuns, tomando cuidado para não danificar qualquer um daqueles segmentos vivos.
O modelo de análise proposta por Francesco Casetti e Federico di Chio dialoga com alguns dos procedimentos adotados por Francis Vanoye e Anne Golliot (2006). Esses autores explicitam que, além de ver, rever e interpretar tecnicamente o produto audiovisual, a análise fílmica deveria promover uma nova atitude com relação ao objeto-filme, demonstrando seu registro perceptivo e, com isto, usufruí-lo melhor, caso o filme seja realmente rico. Vanoye e Golliot propõem que a análise deveria fazer com que o filme se movesse, ou seja, suas significações, seus impactos. Os autores mostram esse processo como uma ação que conduziria o analista a reconsiderar suas hipóteses ou opções no intuito de considerá-las ou invalidá-las.
Ampliando a discussão a respeito da análise da narrativa fílmica, Jesús Garcia Jiménez (1993) apresenta aos seus leitores três modelos de análise: fenomenológico, estruturalista e pragmático. Dentro dessa tríade, este último modelo parece ser o mais apropriado para a presente investigação. Jiménez caracteriza tal modelo pragmático a partir de seu caráter indutivo. Nele, o ponto de partida seria a análise dos textos narrativos audiovisuais para intuir as regras que presidiriam sua construção. Assim, a maior tarefa do analista seria a de refazer o processo criativo e reviver a experiência poética da criação audiovisual. Em sua dimensão poética, o modelo pragmático primaria pelo sentido da liberdade criativa.
Uma arte de resistência através do cinema socioambiental
No Seminário do Terceiro Mundo, realizado em Gênova, em 1965, Glauber Rocha apresentou sua comunicação A estética da fome. Nela, situava o artista do terceiro mundo frente às potências colonizadoras e defendia que, somente uma estética da violência poderia integrar um significado revolucionário às lutas de libertação. Porém, foi em um congresso na Universidade de Columbia, em 1971, que seu pensamento conseguiu novos desdobramentos.
No evento, ele defendeu que a arte revolucionária seria a expressão de ordem no terceiro mundo. Por isso, haveria a necessidade de uma precisa identificação do que é arte revolucionária útil ao ativismo político. Neste sentido, diante da sutil evolução dos conceitos reformistas da ideologia imperialista, o artista deveria oferecer respostas revolucionárias capazes de não aceitar propostas evasivas. “Uma obra de arte revolucionária deveria não só atuar de modo imediatamente político como também promover a especulação filosófica, criando uma estética do eterno movimento humano rumo à sua integração cósmica” (Rocha, 2013, p. 1).
Refletindo sobre o papel da arte, Dandara Mota da Silva (2021) recorre às investigações de Gilles Deleuze para pensar a arte como um ato político-poético. A partir da leitura de Deleuze, ela nos recorda que a arte é contrainformação, ou seja, se opõe às sociedades de controle, se mostra contrária às relações de saber-poder, contrária ao controle das informações. Assim, a arte é contra hegemônica –contra aquilo que está dado. Dessa maneira, a arte só é efetiva quando é concretizada por intermédio do ato de resistência, que pode ser representado pela própria criação. No caso do cinema de preocupação socioambiental, essa resistência se dá por diversas maneiras, tanto pelas temáticas abordadas, como pelos mecanismos narrativos construídos e pelas próprias propostas estéticas concebidas.
Dessa forma, ao eclodir, denunciar e criticar publicamente ações como o desmatamento, o consumismo, a exploração desenfreada de recursos naturais, o avanço da mineração irregular, a abertura para o uso de agrotóxicos contaminantes nas plantações de alimentos, o abandono dos povos originários, a omissão por parte dos governos (especialmente do governo do expresidente brasileiro Jair Messias Bolsonaro), o cinema de preocupação socioambiental está fazendo uma arte de resistência. E é nesse ato de criação resistente que a vida escapa da formatação daquele conhecimento que, anteriormente, era atribuído aos ditos “grandes saberes”, indo para o encontro a outros conhecimentos que, muitas vezes, ainda são postos à margem.
Silva nos lembra que a arte sucede de um ato de resistência, pois resiste, inclusive, à morte. “E se ela resiste à morte, é por ser produção e promoção de vida, de resistência àquilo que nos leva à morte em vida ou à morte como fim único” (Silva, 2021, p. 353). Aqui poderíamos relacionar o cinema de preocupação socioambiental com formas de registro da morte da própria natureza e, por consequência desse caminho, da nossa. Neste sentido, o ato de resistência também se refere à luta que travamos a partir da nossa afirmação no mundo e da nossa afirmação da vida. A autora aponta que, em o Abecedário de Gilles Deleuze (1988-1989), ao se referenciar à obra de arte em “R de Resistência”, Deleuze acrescenta que resistir significa sempre liberar uma potência de vida que estava aprisionada ou ultrajada.
Cabe ressaltar que a palavra resistência apresenta variados sentidos em diferentes áreas: na Ecologia, por exemplo, significa a habilidade de um sistema se manter em funcionamento diante de um distúrbio, de o meio ambiente resistir mesmo a tantas agressões cotidianas –retratadas pelo cinema que aqui propomos investigar. É importante dizer que, pela expressão meio ambiente, utilizada neste estudo, buscamos formar um conceito que desdobra da delimitação legal, caminhando para definições mais abrangentes que dialogam com saberes dos povos originários e consideram aspectos da própria natureza para definir seu significado.
É importante lembrar que a crise ambiental ganhou formas e contornos mais impressionantes no Brasil durante o governo anterior, que promoveu uma verdadeira estratégia de desmonte da política ambiental e desaparelhamento de instituições e da infraestrutura de preservação do meio ambiente do país.
Cabe ressaltar que, desde 2019, a corte internacional recebeu cinco denúncias contra o presidente brasileiro: a primeira, em agosto daquele ano, feita por um grupo de especialistas em direitos humanos, direito ambiental e internacional, liderado por Eloisa Machado, professora de direito constitucional da Fundação Getúlio Vargas (FGV). Eles denunciavam Bolsonaro por “crimes contra a humanidade”. No mesmo período, um movimento organizado pelo Instituto Anjos da Liberdade finalizou um documento sobre a tragédia ambiental da Amazônia, enquadrando Bolsonaro no crime de ecocídio. Em novembro de 2019, o Coletivo de Advocacia em Direitos Humanos (CADHu) acusou Bolsonaro por “crimes contra a humanidade” e por “incitar o genocídio e promover ataques sistemáticos contra os povos indígenas do Brasil”. Em janeiro de 2021, os caciques Raoni Metuktire (povo Kayapó) e Almir Suruí (povo Paitér Suruí) denunciaram Bolsonaro com base nos termos do artigo 15 do Estatuto de Roma, do Tribunal Penal Internacional, apontando-o como responsável por mortes, extermínio, migração forçada, escravização e perseguição contra os povos indígenas.
Partindo de realidades políticas complexas, Victor Amar Rodríguez (2009) defende que o cinema pode contribuir com a educação ambiental, uma vez que estimula a sensibilização do espectador. Contudo, o autor considera equivocada a categorização de cinema ambiental, entendendo que qualquer gênero pode ser usado para reflexões sobre o meio ambiente.
Em sua dissertação de mestrado, Thaís Arruda Ferreira (2013) buscou também refletir sobre esse conceito. Inicialmente, ela expõe o entendimento do historiador Beto Leão sobre o tema. Para ele, em concordância com Rodríguez, o cinema ambiental não se restringe aos filmes ecologicamente engajados, mas abrange todas obras cinematográficas que tratam de temas com alguma leitura ambiental possível. O destaque seria para aqueles filmes que tratam de questões que envolvam a sobrevivência da humanidade e dos seres vivos em nosso planeta. Beto Leão (2001) acredita que, dentro do cinema dito ambiental, os filmes ecologicamente engajados são aqueles de denúncia, contudo, ele defende que o cinema ambiental também é a representação de filmes que descrevem ou que estão ambientados em paisagens mais naturais. Nessa perspectiva, todo filme reconhecido como ecologicamente engajado também é considerado um filme ambiental.
Em uma entrevista para a revista UFG, o pesquisador Ismail Xavier (em Nogueira e Plaza, 2006) afirma que o cinema ambiental não é uma categoria estética ou formal, mas exclusivamente temática. Através da história do cinema constatamos que alcançar o equilíbrio entre a temática e a própria linguagem cinematográfica não é tarefa simples, uma vez que todos os gêneros são instáveis, cheios de zonas cinzentas em suas fronteiras.
Estamos vivendo aqui a mesma questão que se viveu nos anos 60, em que você tinha uma discussão na qual, às vezes, um filme podia ser precário como cinema, mas estava discutindo uma questão que era considerada urgente, do ponto de vista político, ideológico. O Cinema Novo teve muito isso. Quantos filmes não são relativamente limitados como cinema? (Xavier em Nogueira e Plaza, 2006, p. 12).
Também buscando ampliar as fronteiras do cinema ambiental, André Brasil e Bernard Belisário (2016) argumentam que, de modo mais ou menos sistemático, o cinema tem participado da trajetória de luta por autonomia de grupos em diversas situações, como daqueles que tiveram suas terras demarcadas (e que retomam práticas e rituais outrora abandonados), àqueles que se valem das imagens para fazer ver o contexto terrível de ameaças e de violência ao qual estão submetidos e contra o qual resistem. Em diversos casos, o cinema funciona como uma espécie de catalisador para a experiência de grupos que se esforçam por reconquistar seu “devir-índio”.[2] Para os autores, muitas vezes, esse processo construtor tem se mostrado impuro, cruzado, realizado em meio a processos de formação e criação compartilhada entre índios e não índios, a partir de técnicas, tecnologias e poéticas de tradição visual ocidental.
André Brasil e Bernard Belisário tocam em um ponto muito importante para esta pesquisa: a constituição de narrativas cinematográficas a partir da troca de conhecimentos, vivências, formulações culturais, além de elos e afetos. Neste sentido, nos interessa o encontro e a imersão em obras cinematográficas que se permitam pensar o meio ambiente também a partir destas junções e mesclas, percebendo as potencialidades desses mecanismos colaborativos em maior ou menor instância. Refletindo sobre as possibilidades de uma antropologia reversa e criativa, os autores afirmam que
Não é preciso contudo abandonar as questões propriamente expressivas e formais: se elas não visam a uma investigação estritamente estética é porque advêm antes da crença de que, lugar de inscrição precária dos eventos, das ações e da experiência, o cinema seja capaz de cifrar, por meio dessa inscrição, processos que o ultrapassam. […] um filme –e isso nos parece definidor da produção de cinema por coletivos indígenas– se constitui por suas relações com o fora. Um filme se fortalece nas forças que atuam de fora para possibilitá-lo, mas também para desfazê-lo (ou, nas palavras de Tserewahú, para “desmanchá-lo”) (Brasil e Belisário, 2016, p. 603).
Em outra vertente, Brasil e Belisário defendem que o acoplamento entre o corpo e a câmera que filma permite que a dimensão fenomenológica, ou seja, tudo aquilo que se inscreve concretamente na imagem, entre em contato/relação com uma outra dimensão: a cosmológica. Esta última seria constituída, muitas vezes, por processos invisíveis que afetam a própria imagem, ultrapassando a mesma, a partir de elementos de um fora de campo. Um dos exemplos evidenciados por eles são os registros de situações de xamanismo e ritual –conforme pode ser visto em A última floresta, onde é possível supor que o
corpo é afetado por agências cuja presença não nos é dado ver, também a câmera o será: o que ela apreende e inscreve será efeito da relação não apenas com os objetos e fenômenos visíveis, mas também com essas agências invisíveis. O corpo-câmera estabelece vínculos, contiguidades e vizinhanças entre as dimensões visível e invisível, uma a ressoar a outra (Brasil e Belisário, 2016, p. 604).
Esse mecanismo, ligado ao fora de campo, também é ressignificado por Rodrigo Avila Colla (2014) no estudo e aproximação com a convivialidade. Colla recapitula reflexões de Tim Ingold (2012), quando este sugere que as coisas se conectam vivamente com o mundo em seu acontecer. Esse sentimento de convivialidade buscaria contemplar as diferentes instâncias de convívio em suas complexidades (abarcando não humanos e não vivos). Diferente do que Ingold entende por objetos, as coisas, teriam estatuto vivo, pois, ao vazar, ao deixar rastros, ao existir em seu acontecimento, elas vivem. Ingold defende que essa conexão se daria de maneira mais semelhante a uma teia.
Caminhando pelo processo construtor e analítico de A última floresta
Conforme registro da revista Piauí, publicado em maio de 2019, pouco antes das filmagens de A última floresta, o cineasta Luiz Bolognesi recebeu um visitante inesperado na casa onde residia, no bairro Butantã, em São Paulo.
Durante três dias seguidos, ele me acordava de manhã batendo na janela do quarto”, (...) Tempos depois, o Davi Kopenawa explicou que, para os Yanomami, o tucano é um mensageiro dos xapiri, os espíritos da floresta. Alerta para situações de risco de morte. Interpretei como um chamado para registrar os Yanomami e atrair a atenção para o perigo do garimpo (Bolognesi, 2021).
Na entrevista para a Piauí, Bolognesi revela que a ideia de A última floresta foi catalisada quando ele leu o livro A Queda do Céu – Palavras de um xamã yanomami, escrito pelo líder Yanomami Davi Kopenawa e pelo antropólogo francês Bruce Albert. A leitura de A queda do céu foi tão inspiradora que o cineasta resolveu fazer contato telefônico com Kopenawa, a fim de que este último aceitasse ser personagem em seu próximo filme. O xamã respondeu que desejava conhecê-lo pessoalmente. Bolognesi foi encontrar o xamã em Boa Vista, Roraima, em janeiro de 2019. Kopenawa externou sua opinião sincera ao cineasta, afirmando que não havia gostado do seu filme anterior —Ex-Pajé— porque, para ele, a obra apresenta um xamã fraco e um pastor evangélico forte. “Quero mostrar o povo Yanomami forte, morando na floresta, com os nossos xapiri vivos. Quero um filme bonito, que viaje pelo mundo. (...) Vocês, brancos, precisam ouvir o que nós, os Yanomamis, temos a dizer” (Kopenawa em Bolognesi, 2021).[3]
O desejo de fazer um filme orgânico e esteticamente mais atrativo reverberaram na equipe de Bolognesi. Porém, um desafio se apresentou no caminho: como traduzir essa luta política em uma linguagem cinematográfica sem cair no aspecto panfletário?
A resposta está na beleza. A luta pela sobrevivência tem que partir do amor, de acreditar na beleza da vida e na esperança no que se deseja para o seu povo. Isso foi o grande aprendizado que o próprio Davi ensinou para a gente durante esse processo de fazer o filme juntos e é a partir dessa ideia que a gente encontrou a estética. [...] A gente fez em “Ex–Pajé” o retrato de um etnocídio, da perda de uma cultura, e isso é muito triste, e te deixa abalado como espectador e espectadora, é uma visão fatalista. Mas o Davi não queria fazer isso, queria mostrar a beleza, a força e resistência do povo Yanomami, porque isso também é uma realidade. E isso é muito poderoso, mesmo sabendo que a luta é difícil, um “Davi contra Golias”, mas essa vontade de lutar é muito inspiradora, é um grande exemplo de resistência e te dá mais vontade de encarar essa luta (de Noronha, 2021).
A partir dos primeiros apontamentos trazidos por Kopenawa, Luiz Bolognesi decidiu convidá-lo a colaborar no roteiro do seu novo filme –que se consolidou como A última floresta.
Ele me perguntou: “Mas o que faz um roteirista?” “A gente vai escolher juntos as histórias que vamos contar”, respondi. Ele então falou: “Luiz, cinema é sonho, né? Então você tem que ir à minha aldeia e dormir umas noites lá. Temos que falar dos nossos sonhos para encontrarmos juntos essas histórias (Bolognesi, 2021).
A concepção do cinema como sonho realmente foi importante tanto naquele momento de pesquisa e pré-produção, como também na confecção da estrutura da própria obra fílmica. Bolognesi aceitou uma jornada na qual se entregou ao desconhecido. A aldeia Watoriki fica numa região de montanhas, na divisa entre os estados do Amazonas com Roraima, próxima à fronteira do Brasil com a Venezuela. Não há acesso por carro, trem ou barco. Na primeira viagem até a aldeia, o cineasta foi acompanhado de sua assistente de direção e produtora, Carol Fernandes. Inicialmente, a dupla fez um período de dez dias de imersão e pesquisa. Pouco tempo depois eles voltaram com a equipe e permaneceram filmando na aldeia por cinco semanas.
Com o objetivo de fazer um filme o mais indígena possível, diretor e sua equipe foram perdendo o controle de forma consciente, primeiro da dramaturgia e depois da direção. Davi Copenawa reuniu um grupo de homens, formado pelos mais velhos e guerreiros da aldeia, que foram decidindo que histórias deveriam ser contadas. Esse grupo incluiu no filme o mito dos gêmeos Omama e Yoasi, os deuses criadores do povo Yanomami. Neste caminho construtor horizontalizado, com diálogos entre não-indígenas e indígenas na forma de representar a comunidade Yanomami e sua realidade, a perda de controle por parte da equipe liderada por Bolognesi também se desdobrou no reconhecimento que eles não podiam impor um ritmo objetivo ao trabalho ou uma visão externa sobre aquele espaço/obra.
A última floresta é um filme híbrido, que faz combinações de elementos documentais e ficcionais. Desde o roteiro –assinado por Davi Kopenawa Yanomami e por Luiz Bolognesi–, o diretor opta não por fazer somente uma obra sobre os Yanomami, mas com os Yanomami. Neste sentido, promove uma audição sensível das opiniões de Davi Kopenawa e abre mão do seu lugar de conforto enquanto realizador –sem perder a perspectiva da autoria (compartilhada).
Desde os caracteres iniciais o espectador percebe a defesa dos povos originários, especialmente os Yanomami. Sua vivência há mais de mil anos nas terras que se tornaram o Brasil é devidamente ressaltada ainda nos segundos iniciais e, por outro lado, também como a sociedade ocidental oprime as culturas, os territórios e os conhecimentos dos povos originários. A primeira imagem da obra é um grande plano geral onde se vê uma enorme montanha de pedras, circundada por uma densa floresta bem verde, na qual também se observa um pequeno círculo que, pouco depois, percebemos como sendo a aldeia Watoriki, habitada pelos índios Yanomami. Esse plano antecipa uma fotografia cuidadosa que busca, em muitos momentos, demonstrar a grandiosidade e a força da natureza e seus elementos. Vários planos do filme têm duração mais alongada, reflexiva. Um bom exemplo é a sequência na qual observamos um dos indígenas caçando com arco e flecha. A ação é lenta, cautelosa e registrada em pouquíssimos planos alongados. Atendendo ao pedido de Davi Kopenawa, Bolognesi e sua equipe constituem um filme visualmente muito atrativo.
Compondo essa atratividade pela fotografia, a obra também propicia um entrelace de registros de atividades cotidianas de grande força documental a encenações com pormenorizado tom ficcional, de encenação. Na perspectiva de uma menor interferência, ou seja, potencial de naturalidade de ações vividas deliberadamente diante da câmera, é possível destacar sequências como a do banho das crianças no rio, o diálogo noturno sob a luz da fogueira, a preparação e distribuição de alimento pela mulher índia e o ancião nu varrendo a aldeia. Ambos registros podem ser considerados difíceis de serem realizados de maneira tão natural, próxima. O culto xamânico final pode ser interpretado como a apoteose deste aspecto. Também é importante ressaltar que toda a obra foi filmada somente com o uso da luz natural disponível naquele ambiente, seja propiciada pelo sol, lua ou pelas tradicionais fogueiras no interior da grande casa comunal circular chamada de “yano” ou “shabono”.
No caso das imagens ficcionais cabe destacar a encenação do mito da origem. A combinação harmoniosa dessas duas maneiras construtoras propicia uma obra fílmica dinâmica e diferenciada. Conforme vimos antes, Davi Kopenawa acredita que é preciso sonhar para fazer cinema. Neste sentido, a noite na aldeia Watoriki se torna uma espécie de porta de entrada para os sonhos, para o mundo dos seres sobrenaturais. Neste caso, para a vida dos irmãos Omama e Yoasi e de Thuëyoma, o ser peixe que se deixa capturar em forma de mulher. Também neste mito da criação, o sonho se mistura com a realidade, uma vez que, após ferir Thuëyoma e entregar seu próprio filho para os espíritos maléficos, Yoasi é expulso daquelas terras por Omama, que se torna o protetor da natureza e pai dos Yanomami. No filme, Davi Kopenawa conta a outros índios de sua aldeia que, com essas ações, Yoasi criou a morte para os Yanomami. Porém, “Omama enterrou os espíritos maléficos e a fumaça das doenças embaixo da terra com o minério. Por isso não devemos tirar o minério debaixo da terra. Para não despertar a fumaça da doença” (Bolognesi, 2021, 29 m 07 s).
Os três jovens indígenas que encenam os personagens do mito da criação Yanomami são caracterizados pelo uso de penas coloridas e pinturas específicas sobre seus corpos. Omama é visto com linhas mais retilíneas feitas na cor preta. Já Yoasi tem o corpo marcado por círculos brancos. O rio é usado por Thuëyoma como um tipo de porta de entrada e saída do mundo das águas. Ela, literalmente, entra e sai a partir daquele leito. Em um dos planos muito representativos de mudança na atmosfera desse loccus mitológico, a montagem utiliza a imagem de uma parte de um lago/rio sofrendo com a ação da chuva intensa. Neste ponto há uma chave interpretativa possível que aproxima aquela forte sequência de pingos impressos sob a lâmina de água com a tristeza da personagem Thuëyoma, após ter sido violentada por Yoasi.
As rodas de conversas estão presentes em vários momentos do filme. A palavra, a história oral, a fala também se mostra bastante forte, especialmente aquela que é passada dos anciãos ou xamãs para os demais membros da tribo. Por este caminho, durante toda a obra, ecoa o conceito de ancestralidade. Neste sentido, a voz de Davi Kopenawa tem presença marcante na narrativa. Ele é uma espécie de xamã protagonista que tenta orientar, conscientizar, tanto os mais jovens da própria aldeia, como também aqueles que teimam em invadir terras Yanomami.
Internamente, o desafio de Kopenawa e dos outros anciãos é exemplificado quando o marido de Ehuana Yaira decide sair da aldeia e se entregar ao poder de sedução da mineração. Neste ponto do filme há novo entrelace entre documentário e ficção, uma vez que, naquilo que parece ser um sonho, Ehuana observa Thuëyoma –o peixe em forma de mulher– levar seu marido para o mundo das águas. De volta à forma mais documental, observamos que o irmão de Ehuana vai caçar e aproveita para procurá-lo dentro da floresta. Através de fotos de celular e pelo relato entusiasmado do marido de sua irmã, ele conhece alguns dos atrativos defendidos por aquele indígena que já se deixou ser seduzido pela atividade mineradora. Ao retornar para a aldeia somente com arco e flecha nas mãos é interpelado pelo atento xamã: “não trouxe a caça”? Neste fragmento fílmico há a manifestação cuidadosa da liderança da aldeia para com aquele jovem índio, buscando que ele (como tantos outros) escape da armadilha do garimpo e do feitiço das mercadorias. “Omama escondeu o minério embaixo da terra para ninguém mexer. Os brancos reviram a terra para tirar petróleo, ouro e libertam os espíritos maléficos. A fumaça da doença se espalha” (Bolognesi, 2021, 57 m 33 s).[4]
Para catalisar este processo de conscientização entre os indígenas, David Kopenawa rompe as conversas íntimas à luz da fogueira para também utilizar meios alternativos de comunicação. Esse é o caso do rádio de ondas curtas que ele usa para se comunicar com lideranças de diversas outras aldeias isoladas. O uso organizado deste meio de comunicação sugere o fortalecimento da união, do aspecto comunitário entre os povos originários em defesa da natureza e da própria sobrevivência.
É importante ressaltar que o trabalho de conscientização deste xamã protagonista transcende, e muito, a área de reserva indígena. Neste sentido, o filme busca sair da situação particular de conscientização –exemplificada pelo marido e irmão de Ehuana–, para evidenciar a força deste xamã também no espaço do homem branco. Vale pontuar aqui que a força da mulher também é catalisada na obra através da participação ativa de Ehuana. Afinal, mesmo depois que o marido a abandona, ela cuida dos filhos, prepara o alimento da família, vai rachar lenha para a fogueira em pleno dia de chuva e, na cooperativa feminina, tece, ao mesmo tempo que amamenta um de seus filhos.
Queria trazer as mulheres para a roda de conversa. Num primeiro momento, Davi recusou: “Não é nossa tradição. Nas rodas de decisão só os homens participam.” Fiquei incomodado porque as mulheres me procuravam, elas queriam participar. Argumentei: “Davi, lá fora as coisas estão mudando, as mulheres estão lutando para ter espaço. Aqui as mulheres também lutam e, se a gente não trouxer o olhar delas, vão achar que os Yanomami não respeitam as mulheres.” Ele ficou quieto, se levantou e saiu. Às vezes, ficava bravo comigo. Nunca era deselegante ou agressivo, mas se calava. Na hora, pensei: “Putz, passei do limite.” Mas ele voltou e falou: “Luiz, pensei melhor: Ehuana é uma mulher forte. Você deve ouvi-la e trazer as histórias das mulheres. O que você decidir com ela, pode filmar.” (Bolognesi, 2021).
Essa participação feminina também é bastante simbólica no momento da mudança de loccus de conscientização. É por conta da insistência de Ehuana que os homens da aldeia se reúnem para desenvolverem um ritual xamânico coletivo. A ideia é chamar os xapiri para combater os espíritos maléficos ligados à mineração e às demais ações destruidoras da natureza e da vida.
Aqui podemos promover uma nova articulação com o pensamento de Glauber Rocha. Afinal, ele defendia que o misticismo é a única linguagem que transcende ao esquema racional da opressão –neste caso de todas as forças destruidoras do meio ambiente. No texto Eztetyka do sonho, o cineasta defende que a arte revolucionária –como o filme analisado– deve ser capaz de enfeitiçar o homem de tal maneira que ele não suporte mais viver nesta realidade absurda. E é exatamente isso que o grupo Yanomami faz a partir do seu ritual xamânico.
O ritual em A última floresta é filmado com a câmera livre, muito próxima e íntima, acompanhando as reações daqueles participantes. Depois de inalarem um composto de ervas, os xamãs e homens mais velhos da tribo deitam no chão, se contorcem, fazem expressões corporais e faciais que sugerem animais selvagens. Utilizando somente a luz natural e o contra luz em diversos planos, a fotografia desperta ainda mais a imaginação do espectador.
Nos momentos finais do ritual xamânico mostrado no filme analisado, os participantes vão se agrupando no centro da composição, apontando e gesticulando para o mesmo sentido, gritando também ao mesmo tempo, misturando suas vozes e falas. É possível ter uma chave interpretativa na qual aqueles Yanomami se juntaram para derrotar um mesmo inimigo em comum, presente naquele espaço.
O ritual xamânico de A última floresta termina com a entrada de um contra plongèe onde vemos a copa de algumas árvores emoldurando o astro sol, que projeta luz sobre aquela imagem e também sobre a própria situação de enfrentamento de antes –durante o ritual– e do momento que se inicia. Logo depois, começamos a seguir David Kopenawa por um espaço ainda desconhecido da maioria dos espectadores. Entramos junto com o xamã em um salão que está repleto de pessoas sentadas à sua espera. Aos poucos, entendemos que se trata de uma palestra que Kopenawa começa a fazer para pesquisadores da renomada universidade Harvard. Seu processo de conscientização transcende os Yanomami e os povos originários. Agora, ele direciona sua fala e posicionamento para aquele grupo de homens brancos, pesquisadores de uma instituição de ensino tradicional americana, que podem se transformar em aliados da causa ambiental. De forma direta, ele chama a atenção de todos naquele recinto (e também do próprio espectador).
As autoridades não indígenas usam muito a palavra “importante”. Para vocês que vivem na cidade, o mais importante é a mercadoria. Apesar de ter muitas mercadorias, o branco não divide. São sovinas. Fazer muita mercadoria faz mal para a floresta. Para nós, o mais importante são os animais da floresta, a fertilidade. Importante é dividir o alimento entre nosso povo, nossa sobrevivência, nosso crescimento, nossa forma de viver e nossa existência como povo.[5]
Esse último fragmento da fala de Kopenawa é coberto por imagens semelhantes àquelas visualizadas no início da obra. Um tipo de formação cíclica. São grandes planos gerais da imensa montagem de pedra emoldurada pela densa floresta verde. Com um suave movimento de câmera, a aldeia Yanomami é colocada no centro da tela, enquanto começamos a ouvir uma pulsante trilha musical com elementos que ecoam a própria natureza e os povos originários. Mais uma vez, a floresta eclode energia e vida. Agora, a posição de Davi Kopenawa, dos Yanomami e dos seres da floresta precisa ser vista e percebida na posição central.
Antes dos créditos finais…
O filme A última floresta ressalta a necessidade de mudanças urgentes, especialmente no que tange à relação do homem com a natureza. O pensamento de Tim Ingold dialoga diretamente com muitas representações cinematográficas da vida encontrada na floresta –aquela que nunca dorme– intrincada, em seu cerne, por uma constituição cosmológica. Neste sentido, há a defesa de que nós humanos devemos saber conviver com essas coisas de maneira a não as usar contra o mundo e contra elas (e contra nós mesmos), mas em favor de um convívio mais harmônico (em Colla, 2014, p. 48).
É claro que essa busca não é simples ou fácil. Dentro da própria aldeia dos Yanomami, representada no filme, se verifica conflitos internos. Neste território, também evidencia-se aqueles que já não partilham dessa preocupação ambiental ou mesmo aqueles que se deixam ser seduzidos pelos atrativos ligados à mineração e à falsa vida enricada fora da comunidade.
Contudo, um conceito é ecoado firmemente na obra: resistência. Resistência em manter tradições dialógicas entre gerações, resistência em defender seu território, resistência em conscientizar dentro e fora da aldeia, resistência até mesmo para quebrar tabus internos ligados a práticas patriarcais ainda presentes e que precisam ser rediscutidas, especialmente pela participação e força feminina, personificadas através de Ehuana Yara. Neste caminho de ressignificação, o filme ajuda a eclodir algumas importantes questões. Entre elas, a inquietação de quais valores e hábitos são tidos como legítimos na sociedade brasileira contemporânea no que diz respeito ao meio ambiente.
Adentrando o caminho de resistência proposto pela obra fílmica em destaque, por seu processo construtor e pela própria trajetória do cineasta Luiz Bolognesi, encontramos a sugestão de uma escuta sensível e mais aprofundada dos ensinamentos de nossos ancestrais. Como David Kopenawa proclama no filme, que possamos fazer melhor uso da palavra importante na perspectiva socioambiental. Que o cinema possa realmente contribuir, cada vez mais, para a defesa da natureza, para sobrevivência dos Yanomami e de todos os diversos povos originários dentro de uma cadeia orgânica mais harmônica e consciente. Que através do cinema que se propõe à reflexão socioambiental, possamos também analisar nossa relação com o meio ambiente de outro modo e, através dele, ver e ouvir aquilo que nele ainda resta com mais sensibilidade e cuidado.
Referências
Bibliografia
Amar Rodríguez, V. (2009). El cine por una educación ambiental. Educação & Realidade, 34(3), pp. 133-145.
Brasil, A. e Belisário, B. (2016). Desmanchar o cinema: Variações do fora de campo em filmes indígenas. Sociol. antropol., 06(03), pp. 601-634.
http://dx.doi.org/10.1590/2238-38752016v633
Bolognesi, L. (2021). O cineasta e o xamã. Piauí.
https://piaui.folha.uol.com.br/o-cineasta-e-o-xama/
Colla, R. (2014). Ecologização e convivialidade: aproximações entre educação ambiental e cinema [Dissertação de mestrado em Educação. Pontífica Universidade Católica, Porto Alegre].
Casetti, F. e Di Chio, F. (1998). Cómo analizar un film. Barcelona: Paidós.
de Noronha, D. (2021). Pedro J. Márquez: “A última floresta” [entrevista com o diretor de fotografia Pedro J. Márquez]. Associação Brasileira de Cinematografia. https://abcine.org.br/entrevistas/pedro-j-marquez-a-ultima-floresta/
Deleuze, G. (1988-1989). Abecedário de Gilles Deleuze.
http://www.bibliotecanomade.com/2008/03/arquivo-para-download-o-abecedrio-de.html
Ferreira, T. (2013). Reflexões sobre cinema ambiental: uma abordagem multidisciplinar. Limeira [Dissertação de mestrado em Tecnologia e inovação. Universidade Estadual de Campinas, Campinas].
Jiménez, J. (1993). Narrativa audiovisual. Madrid: Cátedra.
Leão, B. (2001). Cinema ambiental no Brasil. Uma primeira abordagem. Goiânia: AGEPEL - FICA.
Nogueira, L. e Plaza, P. (2006). ISMAIL XAVIER: O Caso do Cinema Ambiental [entrevista]. Revista Comunicação e Informação, VIII(1), dossier FICA.
https://revistas.ufg.br/revistaufg/article/view/48061/23443
Rocha, G. (2013). Eztetyka do sonho. Hambre. espacio cine experimental. https://hambrecine.com/2013/09/15/eztetyka-do-sonho/
Silva, D. (2021). A arte como ato de criação e modo de resistência: os possíveis caminhos na psicologia Revista lampejo, 10(1), pp. 343-361.
https://revistalampejo.org/index.php/lampejo/issue/view/20/423
Fontes
Buriti Filmes (s/data). A última floresta. Sinopse. Buriti Filmes [site oficial]. http://www.buritifilmes.com.br/filmes.php?cat=filme&mostra_filme=29
Filmografia
Bolognesi, L. (Dir.) (2021). A última floresta [longa-metragem]. Brasil: Buriti Filmes
Biografía
Adriano Medeiros da Rocha
Cineasta, periodista, Doctor en artes/cine por la Universidad Federal de Minas Gerais (Brasil) y la Universitat Autònoma de Barcelona (España). Investigador en Creación y análisis de línea de imagen y sonido. Profesor de cine, TV y lenguaje audiovisual en DEJOR - Universidad Federal de Ouro Preto (Brasil).
___
Cómo citar este artículo:
Medeiros da Rocha, A. (2024). A última floresta: elos e sonhos socioambientais compartilhados. TOMA UNO, 12. https://revistas.unc.edu.ar/index.php/toma1/article/view/47089
[1] Trecho da sinopse apresentada oficialmente pela produtora Buriti Filmes em seu site oficial.
[2] “Os índios que agora ‘voltam a ser’ índios são os índios que reconquistam seu devir-índio, que aceitam redivergir da maioria, que reaprendem aquilo que já não lhes era mais ensinado por seus ancestrais” (Viveiros de Castro em Brasil e Belisário, 2016, p. 69).
[3] Trecho de fala Davi Kopenawa relatada em fragmento da entrevista de Luiz Bolognesi em O Cineasta e o xamã.
[4] Trecho da fala de Davi Kopenawa no filme A última floresta.
[5] Trecho da fala de Davi Kopenawa no filme A última floresta.